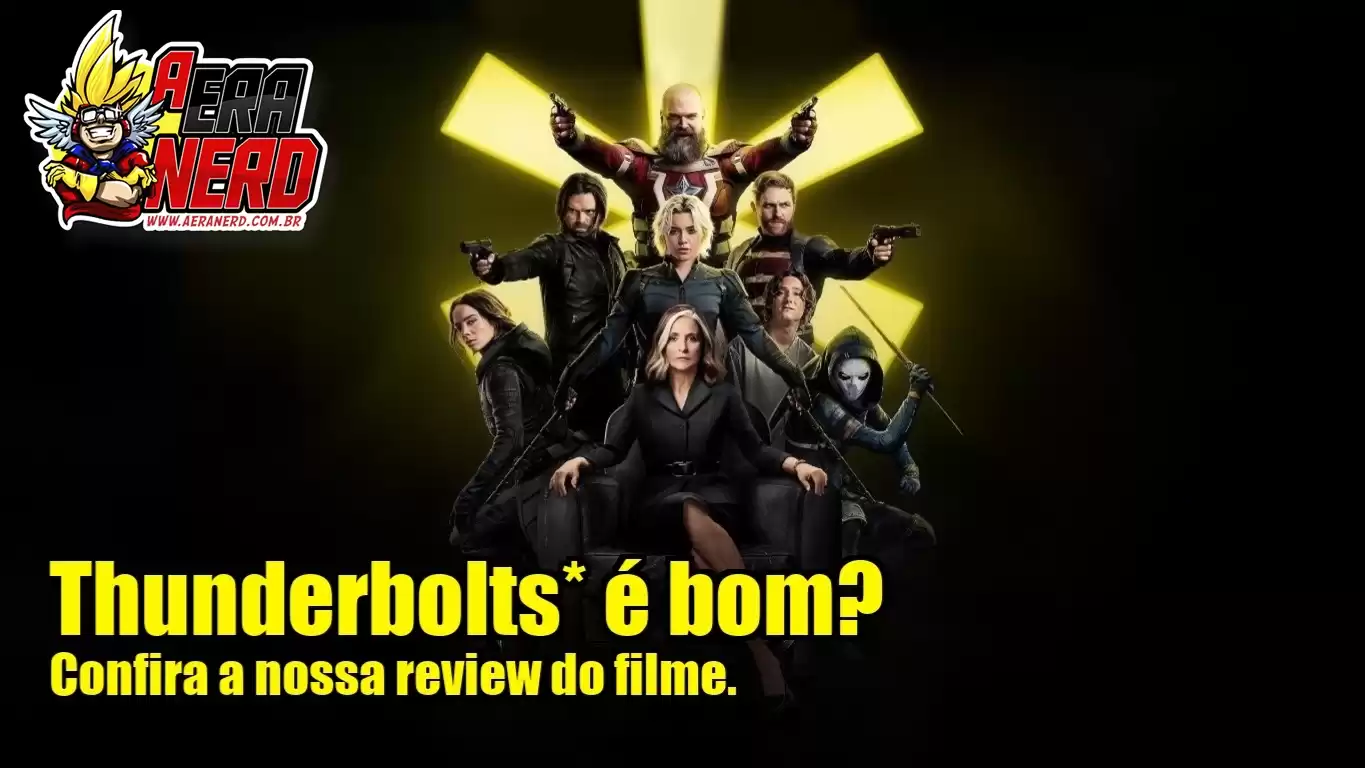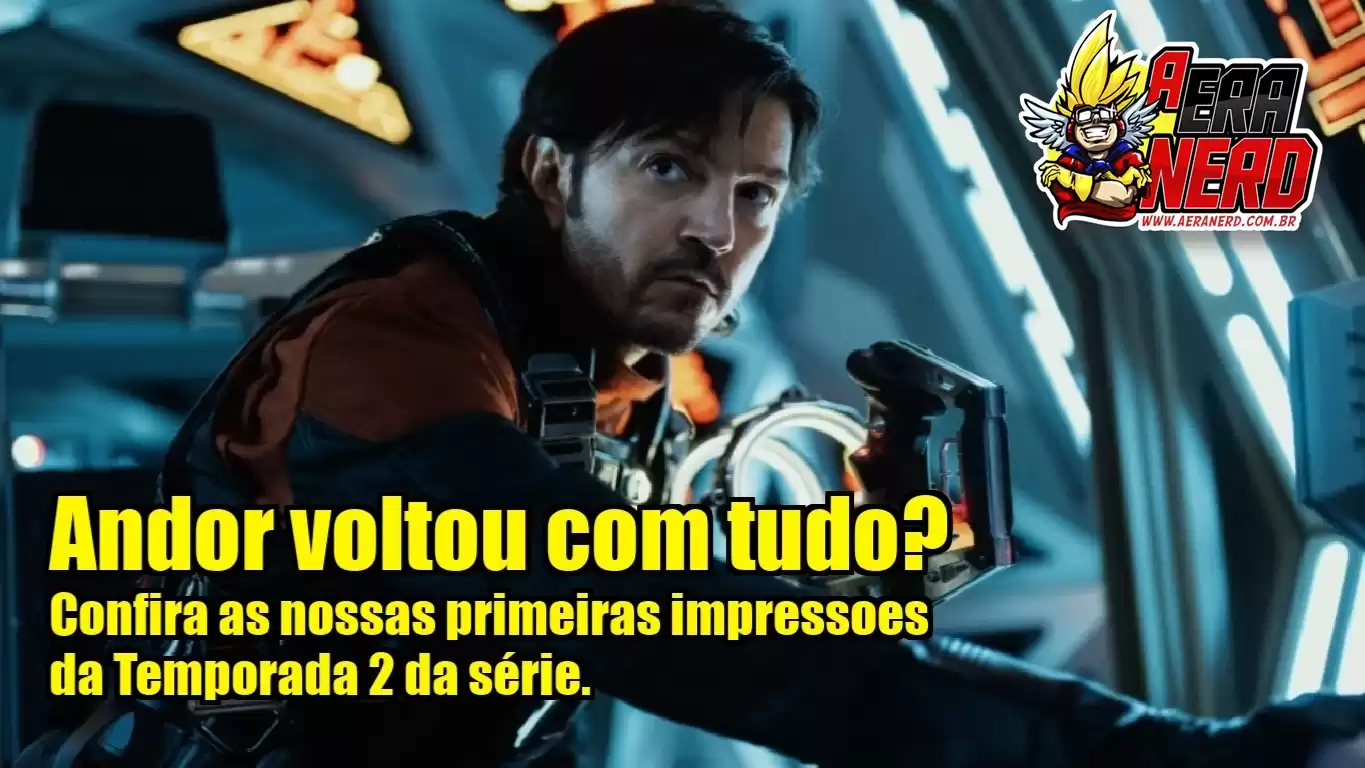CRÍTICA | O Homem do Norte é o pior filme de Robert Eggers e um dos melhores de 2022
Épico nórdico é um show artístico, mas raso em profundidade de personagens.
By CAJR
12/05/2022Uma crítica é uma análise do projeto como todo, ou seja, pela sua execução técnica, como ela foi feita e quem a fez. No caso de O Homem do Norte, o terceiro longa do promissor diretor Robert Eggers, quase tudo na obra parece perfeito. Quase. O problema de O Homem do Norte nem mesmo está no filme, mas sim nos trabalhos pregressos de seu realizador, os excelentes A Bruxa e O Farol.
Pode parecer injusto querer justificar que um projeto seja avaliado a partir de outros filmes, mas cinema é emoção e ele desperta diversas emoções, entre elas a expectativa. Após dois filmes aclamados pela crítica e abusando de assinaturas, mesmo com uma carreira tão prematura, Eggers chega ao seu terceiro trabalho solo longe da A24 - produtora independente, a qual deu liberdade total para seus dois primeiros longas - e encarando uma nova realidade comandando um épico de quase 100 milhões de dólares de orçamento da Focus Features.
Pressão e menos liberdade criativa foram dois pilares do pré-filme e que se mostram em tela. Seja pelo filme escandinavo ser feito todo em inglês - por mais que existe um forte no dialeto dos personagens - ou pelas sessões prévias de aprovação do longa para o público. O roteiro, embora baseado no conto (ou lenda) de Amleth, que possui uma estrutura básica de vingança, sofre por ser muito direto ao ponto, dando bastante destaque na cultura e cenas de ação e se esquecendo do desenvolvimento de seus personagens, sobretudo o brutamonte Amleth, interpretado por Alexander Skarsgård.
Mas do que se trata O Homem do Norte?
Como citado previamente, a história é bem básica: o jovem príncipe Amleth, ainda criança, presenciou o brutal assassinato de seu pai, o Rei Aurvandil War-Raven (Ethan Hawke), morto pelo irmão, Fjölnir The Brotherless (Claes Bang), que que fica com o trono do rei e sequestrou a mãe do garoto, a rainha Gudrún (Nicole Kidman). Ao fugir, o protagonista passa por diversas provações, além de uma profecia. Ele retorna muitos anos depois, adulto e guerreiro dos mais violentos, em busca de sangue e vingança. Em seu caminho, porém, encontrou Olga (Anya Taylor-Joy), com quem tem uma interessante missão, além de ser seu interesse amoroso.
Usando essa base, Eggers, que também assina o roteiro com dramaturgo islandês Sjón (Lamb), conduz a narrativa de maneira coesa, porém indo no caminho do óbvio, Isso não seria um problema se também a condução e desenvolvimentos de seus personagens fosse diferente. Contudo, isso não significa que o diretor tenha perdido a mão ou tomado o caminho da ganância após tantos elogios à sua até então curta carreira. Ao contrário, pois esta é uma obra grandiosa em diversos aspectos, e tecnicamente impecável, cuja maior potência está no esmero técnico em pesquisa e direção de arte. Aliás, vale evidenciar que o cuidado dos roteiristas é notável: eles transpuseram a época viking (entre meados de 700 d.C. e 1000 d.C.) às telas, sem jamais parecer épico, ou tornar esta uma preocupação adjacente.
Ao compor a jornada de Amleth, Eggers encontra o respaldo de uma equipe técnica cujos trabalhos são simplesmente excepcionais: da fotografia gutural de Jarin Blaschke ao desenho de produção de Craig Lathrop, passando pela maquiagem de Carmel Jackson à trilha sonora arrepiante de Robin Carolan e Sebastian Gainsborough. Tudo foi milimetricamente planejado para oferecer o seu máximo, e o resultado é visto em tela de forma extremamente positiva, pois em diversos momentos o filme parece compor novos quadros à já generosa coleção que Robert Eggers oferece ao espectador.
Curiosamente é justamente por conta do impecável trabalho técnico que chama a atenção quando o roteiro parece seguir a trilha do início ao fim e ponto final. Não há nenhum detalhe ou atalho para que o público desenvolva um raciocínio, pois o planejamento excepcional teve um efeito colateral: tudo é visto em tela do jeito que é, e isso torna o segundo ato do longa bastante cansativo, afinal, esta não é uma história nova, e Eggers não fez questão que fosse. Ou seja, é previsível porque o espectador já viu aquilo em muitas outras obras, sejam elas adaptadas fielmente de Shakespeare ou apenas inspiradas, como O Rei Leão.
Primor técnico
Se por um lado é baseado em um conto, base de todo um movimento teatral, esse aspecto é inserido no longa, claro, respaldado nas pausas entre as coreografias das cenas de ação, deixando os derramamentos de sangue mais viscerais; na condução de “palco” das interpretações, onde todo o elenco - que está excelente, apesar do sotaque carregado - segue a frequência rebuscada do texto; bem como o destaque para o design de produção em locação, tornando aquele universo mais crível e também para a mixagem sonora, fazendo os sons ambientes penetrarem nossos ouvidos como se estivéssemos nele, manipulando a propositalmente trincada – mas excelente por esse fator – trilha sonora exatamente nos momentos que se pede tensão ou dúvida - para as sequências oníricas - , mas confesso que sinto falta de uma música tema forte. Todo épico marcante tem uma trilha sonora igualmente marcante.
Vale a pena?
O Homem do Norte é uma "carnificina” a narrativa clássica de vingança em um blockbuster autoral, equilibrado entre a grandiosidade e o intimismo, que (des)romantiza a mitologia Viking com uma leitura crua, trágica e crítica de seus ritualismos sem deixar de enxergar alguma beleza nas suas sujeiras. O diretor pode não ter conseguido mais uma obra-prima, mas definitivamente fez jus ao título de um dos mais promissores de sua geração. Resta saber o que o futuro dirá, mas, se depender da cabeça decepada de Heimir The Fool (Willem Dafoe), pode ser um pouco difícil de prever.
�Mais sobre:
CAJR - Carlos Alberto Jr
Resultado de uma experiência alquímica que envolvia gibis, discos e um projetor de filmes valvulado. Jornalista do Norte que invadiu o Sudeste para fazer e escrever filmes.
- Animes:Cowboy Bepop, Afro Samurai e Yu Yu Hakusho
- Filmes: 2001 – Uma Odisseia no Espaço, Stalker, Filhos da Esperança, Frank e Quase Famosos
- Ouve: Os Mutantes, Rush, Sonic Youth, Kendrick Lamar, Arcade Fire e Gorillaz
- Lê: Philip K. Dick, Octavia E. Butler, Ursula K. Le Guin e Tolkien
- HQ: Superman como um todo, assim como as obras de Grant Morrison e da verdadeira mente criativa por quase tudo na Marvel: Jack Kirby